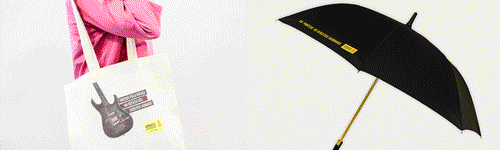Há 25 anos o Exército chinês abriu fogo contra manifestantes desarmados na icónica Praça Tiananmen, em Pequim. Centenas de pessoas, senão mesmo milhares, foram mortas ou feridas naquela noite de 3 para 4 de junho de 1989, conforme os tanques militares entraram pela praça dentro para esmagar um dos maiores movimentos pró-democracia na história do país.
No rescaldo daquela violenta repressão, as autoridades chinesas publicaram os nomes de 21 pessoas numa lista de “mais procurados” pelo seu envolvimento nos protestos. Além de estudantes ativistas, o Governo identificou também, de entre os que lideraram o movimento, trabalhadores e outros que se sentiram inspirados pela corrente pró-democracia daqueles tempos.
Aqui se contam as histórias de quatro dessas 21 pessoas, precorrendo as suas extraordinárias experiências, memórias e as esperanças que elas mesmas têm para a China dos nossos dias.
Shen Tong: “Não acreditávamos que o Governo pudesse fazer um tal horror”
Shen Tong foi um líder relutante nos protestos estudantis de 1989. Apesar de ter apenas 20 anos, muitos dos seus colegas na Universidade de Pequim consideravam-no um ativista veterano.
“A grande maioria dos estudantes queria reformas, não uma revolução. Sentíamo-nos patriotas. Estávamos convictos de que íamos ajudar o Governo”, explica Shen Ton, em entrevista na sua casa em Nova Iorque, onde agora vive e gere uma bem-sucedida empresa de media.
Quando o Governo declarou a lei marcial a 20 de maio, a vaga de apoio aos estudantes que se mantinham em protesto na Praça de Tiananmen alastrou-se aos trabalhadores. “A arrogância das autoridades é que foi a principal causadora do crescimento dos protestos”, sublinha Shen Ton.
“Mais e mais pessoas começaram a ir à praça. Alguns habitantes de Pequim conseguiram, nessa altura, impedir as tropas de tomarem posições no local. O ambiente era de um elevadíssimo estado de espírito. Sentámo-nos invencíveis. Tínhamos desafiado o Governo e levado a melhor à primeira tentativa de porem fim aos protestos”, recorda.
Dentro e em redor da capital chinesa “as tropas estavam encurraladas”: “Senhoras idosas, mães com os filhos nos braços, trabalhadores, todos, se acercavam todos os dias dos soldados e explicavam-lhes o que aquele momento significava e as razões pelas quais as tropas deviam partir. Era assim o ambiente que ali se vivia antes do massacre. Estávamos exaustos, mas sentíamos mais vivos que nunca!”
Na noite em que as forças militares avançaram contra os manifestantes, de 3 para 4 de junho, Shen Ton estava em casa com a família, em Pequim. Tinha ido a casa para a mãe não ficar sozinha, pois o pai adoecera gravemente e tivera de ser hospitalizado. “O meu pai estar doente foi o que, muito provavelmente, me salvou a vida. Senti o dever de filho, de estar com a minha mãe. Se isso não tivesse acontecido, eu estaria na Praça de Tiananmen naquela noite”.
“A minha casa era bem perto da Avenida Chang, onde se deram a maior parte das mortes. Vi o princípio do massacre, os soldados a abrirem fogo contra os manifestantes na Chang. De início pensámos que estavam a disparar balas de borracha, não conseguíamos acreditar que fossem munições reais. Não conseguíamos acreditar que o Governo fosse capaz de fazer um tal horror”, prossegue.
Mas a verdade é que as armas dos soldados estavam carregadas com balas reais. E as tropas tinham recebido ordens claras para evacuar a praça de todos os manifestantes até às 6h00 de 4 de junho.
“Quando há colunas e colunas de tanques em movimento, o chão estremece”, recorda Shen Tong. “Só aí é que percebi mesmo o que se estava a passar. Vi pessoas com as roupas banhadas em sangue, pessoas a serem levadas pelos telhados das casas até um lugar seguro e para o hospital. Ninguém estava a salvo nas ruas com as balas a voarem por todo o lado”.
Shen Tong carrega um fardo muito pesado desde aquela noite: “Sei que é irracional, mas sinto-me responsável por aquelas mortes. É algo que carrego há 25 anos”.
Uma e outra e outra vez ainda, Shen Tong analisou o que é que os estudantes na Praça Tiananmen podiam ter feito diferente: “Olhando para trás, percebo que fomos muito ingénuos. Um protesto com aquela dimensão num Estado policial constitui uma drástica mudança de paradigma. Não há maneira de dizer onde se posicionará a linha do intrespassável. Estávamos a redefinir essa linha”.
Logo após os acontecimentos de 4 de junho, amigos e estranhos ajudaram Shen Tong a esconder-se das autoridades. Apesar de estar na lista dos “mais procurados”, conseguiu apanhar um avião no aeroporto de Pequim, sem sequer usar disfarce, a 11 de junho. Partiu num voo para Tóquio, e daí para Boston, nos Estados Unidos.
Continuou os estudos e, ao mesmo tempo, prosseguiu os seus esforços incansáveis de ativismo em defesa dos direitos humanos na China. Em agosto de 1992 decidiu regressar a Pequim: foi prontamente detido e passou dois meses na prisão, até ser entregue de volta aos Estados Unidos.
“O regime chinês é agora a maior e mais brutal estrutura mafiosa que existe no mundo. A década de 1980 prometia muito mais, muito melhor. Apesar de horrível, terrível, o regime era menos brutal do que atualmente. Pouco me importa se a versão oficial do que se passou muda ou não. Nós sabemos o que aconteceu em Tiananmen. E nós fizemos um bom trabalho em mostrá-lo ao mundo”, remata.
Lu Jinghua: “Uma pessoa caiu morta mesmo ao meu lado, e depois outra”
Na Primavera de 1989, Lu Jinghua, então com 28 anos, ganhava a vida a vender roupa numa pequena banca em Pequim. Todas as manhãs, a caminho do trabalho, passava pela Praça Tiananmen e via ali os estudantes em protesto.
“Fiquei curiosa e fui perguntar-lhes porque estavam na praça. Partilhava com eles o desejo pelo fim da corrupção. Por isso comecei a levar-lhes água e comida”, recorda, numa voz clara e firme.
Uns dias depois de a lei marcial ter sido imposta pelas autoridades, esta vendedora ambulante juntou-se à Federação Autónoma de Trabalhadores de Pequim, que já estava representada na Praça Tiananmen.
Foi uma decisão que lhe mudou a vida: “Ofereci-me para fazer os comunicados por causa da minha voz. Eu punha-me ali, na praça, e partilhava as últimas notícias nos altifalantes. À noite, dormia numa tenda na praça. Também ia às fábricas fazer anúncios especiais e encorajar os operários a juntarem-se a nós e aos estudantes. Gostei muito daqueles dias. Estava feliz. O movimento mudou a minha vida”.
Mas na noite de 3 de junho, no dia a seguir ao primeiro aniversário da filha de Lu Jinghua, o exército deu início ao assalto para desimpedir a Praça Tiananmen.
“Fiquei furiosa com o Governo. E anunciei nos altifalantes: ‘O Governo chinês está a tentar matar-nos’. Vi pessoas a serem mortas e feridas. Quando os tanques se aproximaram da praça, por volta das 2h30 de 4 de junho, disse aos estudantes: ‘Vocês têm de ir embora. Se ficarem vão ser mortos’”.
A aproximação das tropas ditou a fuga. “Ouvi as balas por todo o lado e vi as pessoas a serem alvejadas. Uma pessoa caiu morta mesmo ao meu lado, e depois outra. Eu corri e corri o mais depressa que pude para sair dali. Ouviam-se gritos por ajuda, gente a chamar ambulâncias. Depois havia mais outra pessoa que caía ao chão, morta”.
Durante vários dias, depois do 4 de junho, Lu Jinghua mergulhou na dor e tristeza. “Não podia acreditar que o Governo tinha tentado matar-nos”.
Quando foi publicada a lista dos “mais procurados”, Lu Jinghua era a única mulher de entre os seis trabalhadores identificados pelas autoridades. Os soldados tomaram-lhe a casa de assalto, deitaram a porta abaixo e fizeram buscas em todo o lado. Gritaram à mãe e ao pai de Lu Jinghua e ameaçaram-lhe a irmã, com uma arma encostada à sua cabeça.
Lu Jinghua já tinha fugido. Partira de Pequim uma semana depois da violenta repressão em Tiananmen e foi para Guangzhou, no Sul da China.
“Tinha pensado em ficar num hotel mas descobri que a minha fotografia, da lista dos ‘mais procurados’ fora afixada na receção. Andei escondida durante dois meses. Telefonei a pessoas que conhecia em Hong Kong, implorando-lhes que me ajudassem. Não sabia se devia ficar ou ir embora da China. Se não tentasse escapar ficaria em perigo, mas a minha filha só tinha um ano… E já se tinham passado meses desde que a vira pela última vez. Era uma decisão impossível. Porém, sabia que tinha de salvar a minha própria vida, e foi por isso que acabei por decidir partir”.
Os contactos de Lu Jinghua em Hong Kong ajudaram-na a fazer os planos para a fuga. À coberta da noite, ela e outras cinco pessoas nadaram um rio acima até chegarem a um pequeno bote. Daí foram transferidos para um barco a motor que os levou até ao mar alto. Lu Jinghua conseguiu chegar a salvo a Hong Kong e, em dezembro de 1989, apanhou um avião com destino a Nova Iorque, onde recebeu o estatuto de refugiada.
“Pude finalmente fazer um telefonema para a minha mãe e para a minha filha. Chorei ao telefone. Há seis meses que não via a minha filha. Lembro-me de ter dito à minha mãe: ‘Vou trabalhar muito, muito, para dar uma boa vida à minha família, à minha filha’”.
A voz, sempre firme, falha-lhe ao lembrar a dor de estar longe da família.
Em 1993 tentou regressar à China e ver a família. “Assim que saí do avião, as autoridades interpelaram-me. Eu podia ver a minha mãe, com a minha filha, à espera do outro lado do portão, mas os polícias não me deixaram falar com elas. Eu só queria dizer-lhes olá. Os polícias agarraram-me pelo braço e empurraram-me, aos pontapés. Levaram-me dali e obrigaram-me a voltar aos Estados Unidos. Não cheguei a estar com a minha família”.
Lu Jinghua teve de esperar mais um ano até conseguir reunir-se à filha, à qual foi finalmente permitido juntar-se à mãe nos Estados Unidos, a 16 de dezembro de 1994.
Quando a mãe de Lu Jinghua morreu, em 1998, e o pai, um ano mais tarde, as autoridades chinesas recusaram-lhe os vistos que lhe permitiriam viajar para a China e estar presente nos funerais.
Em Nova Iorque, Lu Jinghua continuou a defender os direitos dos trabalhadores. Foi escolhida como representante sindical de uma unidade de operários têxteis e, mais tarde, tornou-se agente imobiliária.
Com estes 25 anos passados desde o massacre de Tiananmen, ela tem orgulho naquilo que foi conseguido com os protestos. “Nunca esqueceremos o que aconteceu. Fizemos o que era certo. Eu era jovem, estava a fazer algo importante. E continuo a acreditar nisto. Continuo a lutar pelos direitos humanos na China”, sublinha.
“Naquela altura, era uma mulher de 28 anos que passava pela Praça Tiananmen na minha bicicleta a caminho do trabalho. Ninguém me ouvia, mas, depois, as pessoas passaram a querer ouvir e a respeitar aquilo que tenho para dizer”.
E Lu Jinghua é muito clara naquilo que quer dizer ao Governo chinês: “O que quero é que as autoridades peçam desculpas. Quero que peçam desculpas pelo que fizeram em 1989. O Governo tem de nos pedir desculpa”.
Shao Jiang: “Na China ainda não se pode falar do que aconteceu”
Quando Shao Jiang e um grupo de amigos se reuniram em 1989 em segredo num dos dormitórios da universidade, nos arredores de Pequim, nem imaginavam que estavam a escrever história.
Na altura, Shao Jiang era um líder estudantil de 18 anos que costumava distribuir às escondidas revistas pró-democracia e organizar debates secretos na universidade onde se criticava a corrupção que existia no Partido Comunista Chinês. “De início éramos um grupo pequeno. Tínhamos sempre muito cuidado e só nos encontrávamos a coberto da noite. Costumávamos falar com alguns jornalistas estrangeiros sobre o que se passava na China. Mas era tudo feito em segredo”, explica este ativista numa entrevista feita em Londres, onde reside em exílio.
O que começara como pequenas reuniões informais depressa cresceu. Pelo início de 1989, estudantes de todo o país tinham já criado um movimento e, pouco depois, a ideia de organizarem um protesto na Praça Tinanmen começou a ganhar forma.
Envergando uma t-shirt com a imagem icónica do homem isolado na Praça Tiananmen em frente aos tanques, Shao Jiang descreve os dias dos protestos e a vaga de repressão que se seguiu, como se tudo isso tivesse ocorrido apenas ontem. “Nunca tinha acontecido nada assim. Primeiro eram só estudantes mas depois muitas pessoas começaram a juntar-se”, recorda.
“Na noite de 3 de junho, o cheiro do gás lacrimogéneo usado em Tiananmen chegava a quarteirões de distância. Lembro-me de andar pela praça e ruas em volta e ver as pessoas feridas. Vi um médico que gritava ‘Sou médico! Não disparem!’ enquanto tentava chegar junto dos feridos”, descreve.
Após o assalto à praça, Shao Jiang voltou ao dormitório estudantil, pegou em alguns pertences e escondeu todas as revistas políticas que ali tinha. Como muitos outros, entrou na clandestinidade, aterrorizado com o que lhe podia acontecer se a polícia o encontrasse. Conseguiu escapar às autoridades durante três meses, até que foi detido quando tentava sair do país.
Ao fim de alguns meses foi libertado, e depois de vários anos de intimidação e perseguição pelas autoridades devido ao trabalho de ativista na China, Shao Jiang conseguiu mudar-se para o Reino Unido, onde agora faz campanha por justiça pelo que aconteceu há 25 anos na Praça Tiananmen.
“Nos primeiros dez anos depois do massacre, as pessoas tinham muito medo. Se vives na China, continuas a não poder falar do que se passou. Tiananmen ensinou-nos que até as mais pequenas ações podem fazer uma enorme diferença. E prossigo a trabalhar em prol da justiça e dos direitos humanos, porque continua a ser necessária uma mudança na China”, explica.
Wang Dan: “Não me arrependo”
Depois do massacre da Praça Tiananmen, Wang Dan era o número um na lista dos “21 mais procurados” e, em consequência, passou seis anos na prisão.
Antes dos protestos, na Primavera de 1989, era um estudante de 20 anos na Universidade de Pequim, onde organizava debates sobre democracia. “Era apenas um dos [muitos] líderes do movimento. Não sei porque me identificaram como ‘número um’ na lista”, conta numa voz suave.
“Éramos uma geração interessada na situação política do país. O nosso futuro político era muito importante para nós. E defendíamos junto do Governo a necessidade de instituições democráticas para evitar a corrupção”, evoca Wang Dan.
O movimento sofreria o primeiro revés a 26 de abril de 1989, quando o Governo classificou os estudantes como “contra revolucionários”, num artigo publicado no jornal oficial Diário do Povo. Para Wang Dan este foi um momento crítico que apenas fortaleceu ainda mais a determinação dos estudantes. “O artigo deixou-nos furiosos. Antes da publicação estávamos até a considerar voltar às aulas, parar com os protestos. Mas tudo mudou quando nos chamaram ‘inimigos do Governo’”.
As autoridades ignoraram as reivindicações dos estudantes para que fosse emitida uma renúncia pública das acusações feitas no Diário do Povo. “[O Governo] tinha esperança que, com o passar do tempo, perdêssemos a determinação e a vontade de lutar. Foi por isso que fomos para a Praça Tiananmen e entrámos em greve de fome. Precisávamos de entrar num nível mais forte de protesto”, explica.
A greve de fome começou a 13 de maio e gerou um apoio generalizado entre a classe trabalhadora no país, transformando o movimento estudantil num genuíno movimento popular.
“Não estava preocupado com o que ia acontecer. Na verdade não esperávamos que o Governo enviasse as tropas contra o seu próprio povo. Pensámos que eles só queriam assustar-nos”. Mas as tropas abriram fogo contra as pessoas em Tiananmen naquela noite de 3 para 4 de junho.
Wang Dan estava no dormitório universitário. “Um dos meus colegas telefonou-me de um sítio perto da praça. Disse-me: ‘A repressão começou. Já morreram muitas pessoas’. Então tentei chegar a Tiananmen, mas a polícia já tinha bloqueado as estradas de acesso”. O choque emocional derrubou-o: “Durante uns três ou quatro dias nem conseguia dizer nada”.
Nas semanas seguintes Wang Dan contou com a ajuda de amigos que o esconderam, mas as autoridades acabaram por o descobrir a 2 de junho. O líder estudantil cumpriu uma pena de quatro anos de prisão até ser libertado em 1993. Podia ter partido da China, mas decidiu ficar e continuar a fazer campanha pela democracia no país natal.
“Quis continuar a lutar na China. Pelas pessoas que morreram. Senti que era minha obrigação fazer mais. Continuava a achar que ainda havia uma hipótese de mudança. Foi por isso que decidi ficar”, recorda.
Menos de dois anos depois, Wang Dan estava de novo atrás das grades – desta feita condenado a 11 anos de prisão. Acabou por ser libertado ao fim de dois anos, por razões médicas e na condição estrita de partir e ir viver no exílio.
“Foi uma decisão muito difícil. Foi muito duro partir, sabendo que não voltaria a ver a minha família. Mas se me recusasse àquelas condições ficaria na prisão. E na prisão não poderia fazer nada”. Wang Dan partiu. Foi estudar nas universidades de Harvard (nos Estados Unidos) e Oxford (no Reino Unido), e, agora, é professor de Ciências Políticas numa universidade em Taiwan.
Na China, racionaliza, “não conseguiria fazer nada”. “A polícia andaria sempre atrás de mim e não seria sequer capaz de falar com as pessoas. Mas fora da China, pelo menos posso falar livremente. Não me arrependo do que nos aconteceu. É preciso fazer sacrifícios pelo futuro. E nunca sinto arrependimento. O que se passou foi um enorme abrir de olhos; a democracia tocou os corações dos cidadãos comuns chineses. Nós abrimos os olhos às gerações futuras”.