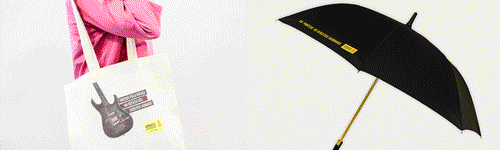Especialistas de África e das suas diásporas globais reuniram-se em Berlim no final de 2024 para apelar aos governos europeus para que abordassem o seu passado colonial e o seu impacto atual.
Neste texto, quando se assinala o Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial, a advogada de direitos humanos Melissa Hendrickse, o jornalista Gary Younge e a académica Pumla Dineo Gqola falam sobre o legado duradouro do colonialismo, a forma como este os afetou e a importância das reparações.
Melissa Hendrickse
“O colonialismo e a escravatura de países europeus construíram o mundo em que vivemos hoje”
Nasci na Cidade do Cabo no início dos anos 1990 – no meio das negociações para acabar com o apartheid. Foi um período turbulento na história da África do Sul. Após o assassinato de Chris Hani, uma figura importante da luta pela liberdade na África do Sul, parecia que a transição política estava à beira do colapso. Mas as negociações prosseguiram e, quando eu tinha dois anos de idade, a África do Sul realizou as suas primeiras eleições democráticas.
Era uma melhor altura para crescer como pessoa de cor na África do Sul, em comparação com a experiência dos meus pais. Havia um sentimento de esperança e de otimismo. No entanto, o legado do apartheid não desapareceu simplesmente – o país continuou segregado e a desigualdade causada por séculos de colonialismo, desapropriação e exploração perdurou. Cresci numa zona predominantemente branca. A maior parte dos meus colegas de turma eram brancos e foi difícil navegar a minha própria identidade em espaços que estavam desligados da história do país e da experiência da maioria dos sul-africanos.
Continuei a estudar Direito, inspirada pelo papel que o Direito pode desempenhar no apoio às lutas contra a injustiça racial. Depois do meu mestrado, candidatei-me a um emprego na Amnistia, onde sou agora investigadora e consultora sobre justiça racial e direito penal internacional. Em vez de ser uma ativista no sentido tradicional, vejo a minha contribuição sobretudo através do direito e da análise jurídica. Trabalhar no relatório inovador da Amnistia, que concluiu que Israel estava a cometer genocídio contra os palestinianos, foi uma honra. O paralelismo entre o apartheid sul-africano e a opressão racial dos palestinianos é algo que me toca profundamente. Como disse Nelson Mandela: “A nossa liberdade está incompleta sem a liberdade dos palestinianos”.
“O paralelismo entre o apartheid sul-africano e a opressão racial dos palestinianos é algo que me toca profundamente”
Melissa Hendrickse
No âmbito da equipa de justiça racial, trabalho na reparação da escravatura e do colonialismo, tendo recentemente redigido a política da Amnistia. O colonialismo e a escravatura de países europeus construíram o mundo em que vivemos hoje. É palpável à nossa volta – desde as fronteiras que nos dividem até às línguas que falamos e aos sistemas de conhecimento que nos são ensinados. A incrível riqueza que foi conseguida pelos Estados europeus através da escravatura e do colonialismo conduziu a uma enorme desigualdade que continua a marcar a ordem mundial.
Atualmente, não pode haver uma justiça racial significativa sem se ter em conta este legado e sem se refazerem os sistemas opressivos construídos pelo colonialismo. Embora os Estados europeus estejam a começar a pedir desculpa, continua a haver resistência em tomar medidas concretas e oferecer reparações. É por isso que o trabalho da Amnistia sobre reparações surge num momento histórico importante. A nossa esperança é que, ao juntar-se ao movimento global de reparações, a Amnistia possa contribuir para criar pressão sobre os Estados europeus para que respondam com mais do que meras platitudes aos crescentes apelos à justiça reparadora.
Gary Younge
“Cresci a pensar que não era britânico – e não queria sê-lo”

Cresci numa cidade chamada Stevenage (no Reino Unido), durante os anos 1970, depois de a minha família se ter mudado de Barbados. Havia muito poucos negros.
Nos anos setenta, havia muito racismo casual de todos os tipos, tanto de professores como de pessoas que viviam perto de nós. As mesmas pessoas que eram racistas podiam ser vizinhas. Não era consistente. Cresci a pensar que não era britânico – e não queria sê-lo. No inverno, as pessoas diziam: “Aposto que não é assim no sítio de onde vens”. Havia o pressuposto de que, se fosses negro, não eras britânico.
Foram em parte estas contradições que inspiraram o meu ativismo. Para mim, o ativismo tinha a ver com ser uma pessoa livre – se queríamos a nossa liberdade, tínhamos de lutar por ela e pela liberdade dos outros. Para mim, não havia outra forma de estar no mundo. A minha família era muito política – a minha mãe, os meus irmãos – e desde muito cedo que fiquei obcecado com a noção de liberdade e com o que significa ser livre.
A história do colonialismo e da escravatura sempre me interessou. Crescemos em países da Europa que decapitaram a sua história de uma forma peculiar. Há um aforismo que explica a imigração pós-colonial e que diz: “Estamos aqui porque vocês estiveram lá. Se não sabiam que estavam lá, como é que sabem porque é que eu estou aqui?”.
“As reparações continuam a ser importantes porque o impacto da escravatura e do colonialismo ainda é evidente”
Gary Younge
Não é possível compreender onde estamos como país ou onde eu estou como pessoa ou porque é que a nossa política racial é o que é, a menos que haja um compromisso com o colonialismo. Nada disto faz sentido. E ainda está longe de ter terminado. Ainda estamos a lidar com isso.
A Grã-Bretanha só há pouco tempo é conhecida como uma democracia não racial. Há um nível de negação implausível que estes países europeus podem ter sobre onde estiveram e o que fizeram – apresentam-se como democracias liberais esclarecidas e toda a gente acredita nisso. No entanto, se olharmos para trás da cortina, encontraremos todo o sangue a jorrar, juntamente com a ocasional recompensa, como quando a Grã-Bretanha devolve as ilhas Chagos.
As reparações continuam a ser importantes porque o impacto da escravatura e do colonialismo ainda é evidente. Podemos vê-lo nas relações comerciais, nos padrões de migração, na pobreza e noutras desigualdades, tanto a nível mundial como nacional. O princípio das reparações já foi estabelecido. Vimo-lo após a Primeira Guerra Mundial, após a Segunda Guerra Mundial, após o Holocausto e mais além. A questão que se coloca é: porque é que as pessoas de ascendência africana, que foram escravizadas, e os descendentes dos colonizados devem ser omitidos dessa narrativa?
Pumla Dineo Gqola
“As conversas sobre reparações têm de ser sérias e têm de sair do domínio da superficialidade”

Cresci na África do Sul, durante os anos 1970 e 1980, quando o apartheid estava a apertar o seu reinado. Era complicado e difícil.
No entanto, foi uma época de diversificação do ativismo. Cresci rodeada de académicos negros e sabia que queria ser uma académica. A política da minha família era de esquerda e o meu pai ensinava numa universidade negra histórica. Foi fundamental para o que eu viria a ser.
Atualmente sou professora, escritora feminista e tenho formação pós-colonialista. Muitas vezes pensamos no colonialismo como algo que já acabou, mas ainda estamos a viver as suas longas sequelas. Vivemos num mundo moldado pela lógica colonial e os sistemas que organizam o nosso mundo provêm dos seus próprios poderes. Por exemplo, o local de onde as pessoas migram e para onde migram está claramente mapeado nas histórias criadas sob o poder colonial, ao passo que os países com baixos rendimentos têm mais probabilidades de serem antigas colónias. Assim, embora o colonialismo formal tenha terminado, muitas das ideias sobre a organização do globo e sobre quem se pode deslocar para onde, como, porquê e quando se enquadram confortavelmente nessas divisões – e é por isso que são tão difíceis de desfazer.
“Muitas vezes pensamos no colonialismo como algo que já acabou, mas ainda estamos a viver as suas longas sequelas”
Pumla Dineo Gqola
Participei recentemente no evento Dekoloniale Berlin, juntamente com vários especialistas em justiça racial. Estes encontros são importantes por uma série de razões. São uma oportunidade para ir além da atuação diplomática, enquanto as conversas em torno da dívida, dos direitos humanos e das reparações, mesmo ao nível da arte e da cultura, a conversa sobre a colonialidade, é uma conversa que mostra todos os aspetos de como a União Europeia (UE) é um bloco de poder.
Daqui para a frente, quero ver uma mudança significativa na negociação dos Estados dentro e fora da UE – e o que quer que isso pareça tem de ir para além da diplomacia, enquanto as conversas sobre reparações têm de ser sérias e têm de sair do domínio da superficialidade.